A agulha e o vazio: 32 anos de Trainspotting
- Marcello Almeida

- 9 de ago. de 2025
- 3 min de leitura
“É mais fácil amar certas pessoas quando não se precisa estar perto delas.” Trecho do livro, mas poderia ser um epitáfio para relações, cidades, países inteiros.

“Trainspotting”, no linguajar escocês, é atividade inútil. Coisa sem propósito. Perder tempo vendo trens passar. Um nome perfeito para a vida de Renton, Sick Boy, Seeker, Cisne, Madre Superiora — jovens de Edimburgo que bebem até o osso, injetam até o silêncio, veem futebol pela televisão como quem vê a própria vida ir embora em replay. A prosa de Irvine Welsh é ácido na língua, cortada por humor negro, sarcasmo, ironia — e essa agilidade que não é gratuita, mas uma defesa contra o peso sufocante da realidade.
Não é só sobre drogas. É sobre ter decidido que a vida certinha — estudar, trabalhar, casar, ter filhos, pagar boletos, acumular bens — não serve. E não só não serve: é ofensiva. Um grito punk contra o script do sistema, no espírito sujo de Sid & Nancy, embalado por “Heroin” do Velvet Underground. Welsh não romantiza — ele joga na cara. Carne viva, agulha entrando, suor misturado ao pó da rua. Não há horizonte, só o próximo pico.
Esses personagens não são apenas marginais. São espelhos trincados de uma geração que não vê saída. Nos anos 90, era heroína e desemprego. Hoje, pode ser cocaína de banheiro, álcool barato, ansiolítico engolido sem receita, o vício de rolar telas até o amanhecer. A substância muda. O vazio não. E a pergunta segue: quem disse que a vida precisa ser apenas um mar de dívidas e acúmulo de coisas que vão te enterrar junto?
Os personagens do livro vivem em uma bolha, convenções sociais que vão determinando os passos de suas vidas e mediante a isso, o leitor embarca em uma viagem alucinógena pelas mazelas e desigualdades sociais impostas pelo sistema.

Há algo quase litúrgico na fuga deles. O crime, o sexo, a agulha — tudo vira rito. A picada não é só vício, é a comunhão blasfema contra a igreja do capitalismo. Morrissey canta There Is a Light That Never Goes Out e parece que fala com eles: o desejo de sair, de sumir, de se perder com alguém, porque qualquer lugar fora daqui já seria salvação.
O livro é um mergulho em um aquário de vidro rachado. As convenções sociais são a água — e eles, peixes tentando respirar fora dela. A leitura é como caminhar rápido demais numa rua que não conhece: cada esquina, um perigo; cada diálogo, um tapa. É por isso que Trainspotting não se lê por passatempo. Ele arranha. Ele suja.
E em 1996, Danny Boyle pegou esse caos e jogou na tela com um pulso que poucos diretores teriam coragem de manter. O filme é icônico, mas o livro tem um veneno próprio. Welsh escreveu para os que crescem no vazio, para os que não veem um futuro que valha o presente. Ele se tornou voz e cicatriz de uma geração.
Agora, em 2025, já se passaram 32 anos desde que Trainspotting foi publicado. E ele continua atípico, fora de qualquer molde. Não é literatura “importante” no sentido acadêmico, é literatura que respira fumaça, que tem gosto metálico na boca. Potente. Urgente. E visceral. Um lembrete incômodo de que, mesmo quando as drogas mudam e a estética muda, o buraco é o mesmo.
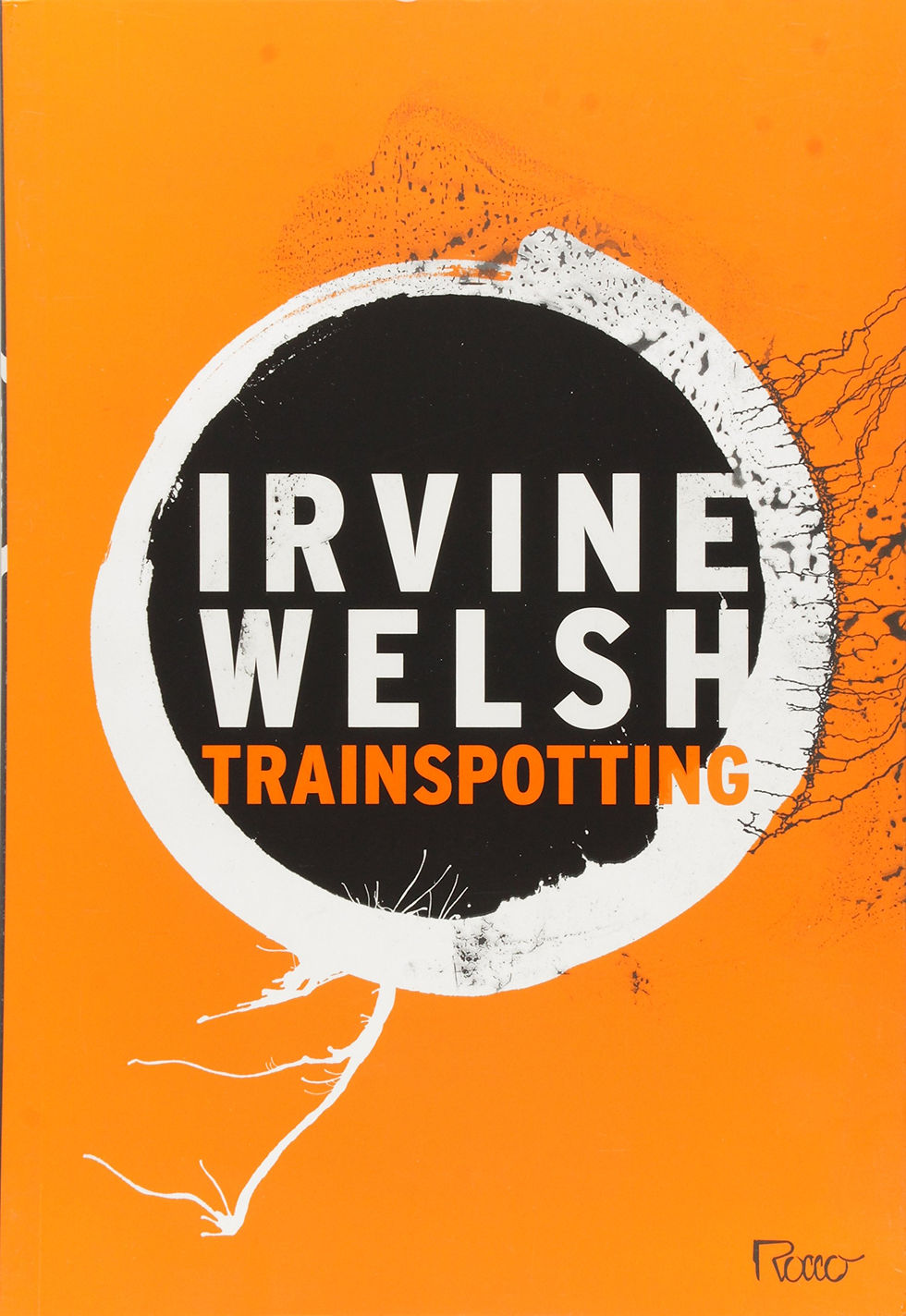
⭐⭐⭐⭐⭐















Comentários